Depois da marcha com raio, virá a ruptura?
O 8 de janeiro introduz outro marco


Por João Zisman - 27/01/2026 17:01:31 | Foto: João Zisman - Editoria de Artes/IA
À exceção do Carnaval, o Brasil não é um país de rua constante. A ocupação do espaço público, por aqui, não é prática regular nem exercício contínuo de cidadania. Ela acontece em ciclos raros, quase sempre depois de longos períodos de acomodação, quando a política institucional deixa de absorver tensões e algum fato, às vezes grande, às vezes aparentemente banal, rompe a inércia social. Quando a rua se impõe, a história brasileira mostra que seus efeitos nunca foram lineares.
Nos anos 1960, as marchas da família, realizadas em várias capitais, produziram visibilidade e volume, mas serviram como pano de fundo para um desfecho decidido fora da rua, nos quartéis e nos arranjos institucionais. As Diretas Já, duas décadas depois, mobilizaram milhões, não obtiveram vitória imediata, mas deixaram marcas que seriam consolidadas adiante. Os caras-pintadas talvez representem o exemplo mais direto de conexão entre mobilização e consequência política, ainda que episódica.
Em 2013, o roteiro mudou de forma mais profunda. As manifestações detonadas pelo aumento das tarifas de transporte, começando em São Paulo, não foram apenas um protesto por centavos. Elas romperam um estado de adormecimento prolongado, especialmente entre os mais jovens, que até então pareciam integrados ao consumo, às redes e a uma política distante. Não houve síntese nem liderança clara. Houve fratura. A rua voltou a ser percebida como espaço possível de intervenção, mas também como território instável, aberto a apropriações múltiplas e muitas vezes contraditórias.
Nos anos seguintes, as mobilizações pelo impeachment de Dilma Rousseff mostraram que a rua podia, sim, pressionar o sistema e produzir um desfecho institucional. Ainda assim, o processo pouco alterou a lógica estrutural do poder político. Mudaram-se peças, preservaram-se engrenagens.
O 8 de janeiro introduz outro marco. Não foi marcha, tampouco manifestação clássica. Foi uma ruptura simbólica grave, que alterou o modo como o Estado, as instituições e a própria sociedade passaram a olhar para qualquer ocupação do espaço público associada à contestação política. Desde então, a rua carrega mais camadas de leitura, mais vigilância e mais cautela do que em outros períodos.
É nesse ambiente que ocorre a caminhada convocada por Nikolas Ferreira. Houve presença, engajamento e disposição de caminhar. Esse é o dado observável. Não mais do que isso. Qualquer tentativa de atribuir à marcha um peso histórico que ainda não se revelou transforma expectativa em análise.
A experiência brasileira sugere que a rua pressiona, mas raramente governa. O sistema político, por sua vez, aprendeu a esperar, a absorver sinais e a traduzir seletivamente aquilo que lhe convém. O efeito de uma mobilização não está no ato em si, mas na sua capacidade de atravessar o espaço simbólico e alcançar o terreno das decisões. Sem tradução institucional, sem agenda consequente, sem desdobramento concreto, a caminhada permanece como registro, não como inflexão.
A pergunta, portanto, não é sobre o tamanho da marcha nem sobre a força de sua convocação, mas sobre o que vem depois. Se ela chegará além da Praça do Cruzeiro, não em metros percorridos, mas em impacto político real.
A história brasileira mostra que caminhar pode anteceder mudanças, legitimar rupturas ou simplesmente marcar o momento em que uma insatisfação decidiu, por algumas horas, sair de casa. O sentido, quando existe, quase nunca se anuncia no percurso. Costuma aparecer depois. Se aparecer.


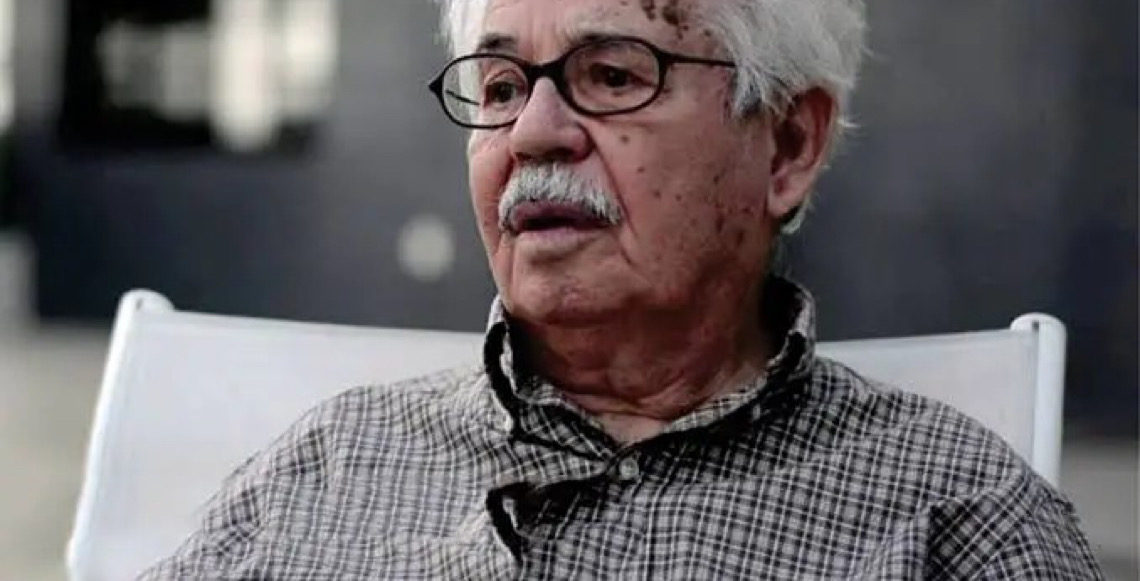

























Comentários para "Depois da marcha com raio, virá a ruptura?":